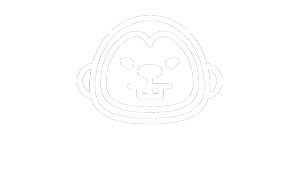O sonho do Ocidente sempre se apresentou como algo seguro, racional e moralmente superior. Um lugar onde a vida estaria protegida por leis, instituições e, muitas vezes, por muros. Muros físicos e simbólicos que separam quem faz parte desse sonho e quem fica do lado de fora. Hoje, esse sonho parece duro, fechado em si mesmo, incapaz de se mover ou de se comover. Como se tivesse adquirido o mesmo frio das paredes que construiu para se defender.

Desde a infância, aprendemos a confiar nas paredes. A casa é o primeiro espaço onde nos sentimos protegidos, onde o mundo parece fazer algum sentido. É ali que o imaginário se forma, que o afeto cria raízes. A ideia de lar não é apenas um teto, mas um lugar onde se pode sonhar sem medo. Isso não é um privilégio ocidental. O escritor palestino Ghassan Kanafani já se perguntava por que alguém sente um apego quase inexplicável à própria casa, às lembranças e à família. Ele não encontrou uma resposta clara, apenas reconheceu que esse vínculo existe e é profundo.

Mas paredes não têm sentimentos. Elas protegem e excluem com a mesma indiferença. Uma criança pode sonhar dentro de uma casa, mas basta uma ruptura violenta para que tudo se quebre. Um trauma forte na infância divide a vida em antes e depois, como uma casa interrompida pela metade. Durante a Segunda Guerra Mundial, o poeta Czesław Miłosz escreveu sobre casas abertas por bombas, expondo ao mundo a intimidade de famílias inteiras. Para ele, ver lares destruídos dessa forma foi suficiente para romper qualquer ilusão de que o mundo ocidental fosse, de fato, um lugar seguro.

Ainda assim, nem toda parede destruída provoca luto. Em Berlim, a queda do Muro é celebrada como símbolo de liberdade. O que restou dele virou ponto turístico, coberto por grafites e murais coloridos. A escrita sobre o muro transformou uma estrutura de opressão em espaço de expressão. Frases de amor, protesto e ironia se espalharam por sua superfície. Mas mesmo ali havia limites. Mensagens críticas aos Estados Unidos foram apagadas antes da visita de Ronald Reagan em 1987. A liberdade, mais uma vez, tinha fronteiras bem definidas.

Com o tempo, o que era espontâneo virou patrimônio. Muitos dos murais que hoje se veem em Berlim são réplicas preservadas, não registros vivos de um momento. O grafite, que nasce da urgência e da transgressão, foi enquadrado, restaurado e transformado em atração cultural. Ainda assim, a cidade continua falando por suas paredes, especialmente nas áreas menos centrais, onde a escrita segue sendo uma forma de existir e resistir.

Escrever em muros nunca foi um gesto neutro. É um ato de risco, de desgaste, de enfrentamento. A própria origem da palavra grafite remete a arranhar, ferir a superfície. Desde sempre, pessoas escrevem em paredes para marcar presença, para gritar quando não há palco, para dizer o que não cabe nos espaços oficiais. Mas há quem prefira que esses muros se calem. Apagar grafite virou um grande negócio, movido pelo desejo de fazer a cidade esquecer o que foi dito na noite anterior.

Em Berlim, muitas “paredes” hoje pertencem à publicidade. Elas falam o tempo todo, vendendo produtos, estilos de vida e promessas vazias. Diferente do grafite, ali tudo pode ser dito, desde que alguém pague. O excesso de mensagens, no entanto, anestesia. Quando tudo grita, nada realmente é ouvido. A escrita vira paisagem, perde impacto, deixa de incomodar.

Ainda assim, basta uma palavra fora do lugar para quebrar esse torpor. Uma frase em um muro, ou dentro de uma fotografia, pode mudar completamente a forma como olhamos para uma imagem. Palavras carregam memórias, cheiros, sensações. Elas nunca significam apenas o que dizem. Por isso, imagens banais do cotidiano podem conviver com palavras que remetem à dor, à guerra e à morte, criando um contraste difícil de ignorar.

O poeta Miłosz escreveu sobre um carrossel funcionando ao lado do gueto de Varsóvia enquanto pessoas morriam ali perto. A vida seguia, apesar de tudo. Hoje, algo parecido acontece quando vemos pessoas indo ao trabalho, passeando ou tomando café enquanto Gaza se torna sinônimo de destruição. Diante disso, ele escreveu que só conseguia pensar na solidão de quem estava morrendo. Essa solidão continua sendo uma das marcas mais cruéis das grandes tragédias.

As paredes seguem dizendo o que muitos não ousam dizer em voz alta. Em Berlim, grafites com “Free Gaza” são apagados. Frases pró-Palestina viram motivo de investigação. Movimentos de boicote são criminalizados. O discurso é controlado, mesmo em uma cidade que construiu parte de sua identidade sobre a ideia de liberdade e contestação.

A expressão “a escrita na parede” vem de uma história bíblica sobre um aviso ignorado. Um rei festejava enquanto uma mensagem anunciava o fim de seu reino. O aviso estava ali, visível, mas ninguém quis ou soube interpretá-lo. Desde então, a frase passou a representar sinais claros de um desastre que preferimos não encarar.
Muros não morrem. Eles podem ser derrubados, reaproveitados, virar pó. O que desaparece de verdade são os sonhos que estavam ligados a eles. Quando uma casa é destruída, não é apenas concreto que se perde, mas a ideia de futuro. Em Gaza, a maioria das casas foi reduzida a escombros. As crianças que sobreviveram crescerão sem um lar para chamar de seu.

Uma criança não é uma parede. Ela sente, sonha e pode morrer. E a morte de uma criança não deveria ser algo normalizável, por mais imagens que circulem todos os dias. O sonho do Ocidente, diante disso, parece sempre o mesmo: lamentar depois aquilo que poderia ter sido evitado antes. Como uma frase escrita na parede, ele está ali, visível, mas seguimos fingindo que não sabemos.