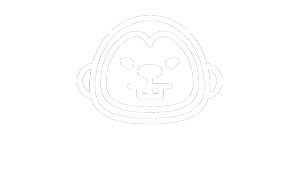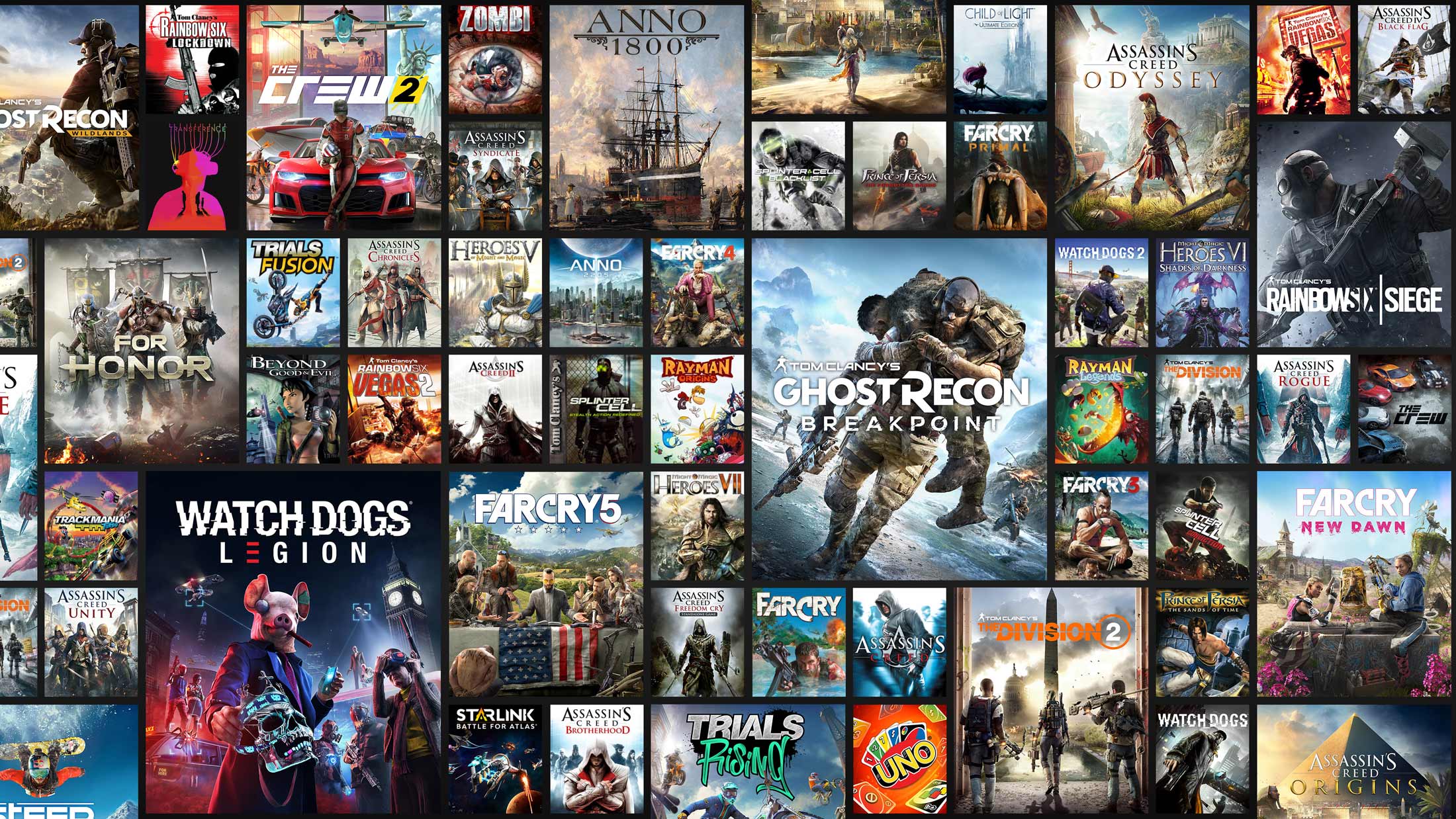Olhei o relógio assim que os créditos de Katana Zero (Steam / Switch) subiram na tela. “Três horas de jogo”, ele dizia. Eu vibrei. É estranho pensar que um jogo ter “só” três horas possa ser motivo de comemoração. Mas é mais do que isso no caso de Katana Zero – é o fato que Askiisoft soube imediatamente quando começar, parar, e entre uma coisa e outra levantar questões importantes.
Como o protagonista conhecido apenas como “O Dragão”, a Akiisoft aposta na apresentação e na jogabilidade como a isca perfeita para “fisgar” o jogador. Afinal, como não amar a sua apresentação? Uma trilha sonora sensacional, a precisão dos ataques, o prazer de arrancar a cabeça do inimigo, de vê-lo queimar ou explodir em pedaços com golpes certeiros. Em termos puramente “mecânicos”, não há nada do que “reclamar” da sua jogabilidade. Ela é “perfeita”, e uma maravilhosa cortina de fumaça.

Katana Zero por si só é violento, profundamente violento. É o grau de violência que se vê em jogos como Doom e afins; um que não dá espaço para erros. Um movimento errado e você está morto – um piscar de olhos e você tem o mesmo destino dos seus inimigos. Use objetos do cenário como potenciais armas, veja o sangue jorrar. Ataque, defenda, ataque e mate mais um pouco. Termine a fase e você tem um novo “vilão”, um novo “alvo a ser eliminado”.
Mas é a história que acontece em segundo plano que me deixa entusiasmado, e intrigado, mais do que as cabeças rolando pelo mapa. Como mencionei em meu texto sobre a Plague Tale: Innocence, estamos em um ponto onde a violência gratuita é um forte veículo para extrair emoção ou empolgação de uma audiência. Não que eu tenha algo contra isso, desde que ele venha bem contextualizado – e Katana Zero faz essa contextualização de maneiras inesperadas.

Quase todo diálogo demonstrado pelo jogo pode ser ignorado no toque de um botão. “Eu não quero ouvir a trama, eu só quero matar”, é como eu interpretei. O protagonista, dentro desse contexto, atua quase como um robô: um único objetivo em mente, a eliminação de seus oponentes. Esse estilo “máquina” me remete a dois jogos – Ruiner, da Reikon Games, também publicado pela Devolver, e o primeiro Hitman (2000).
Para Ruiner, você era um “cachorrinho”; siga as regras e ganhe um biscoito no final – não importa a carnificina deixada pelo caminho. Hitman segue um viés similar. A história de origem do Agente 47 é complicada e pouco explorada no reboot da IO Interactive. Originalmente, ele havia passado por uma lavagem cerebral, tornando-se assim a máquina de matar que conhecemos hoje em dia, e, no final do primeiro game, mata o seu “criador” para tentar levar uma vida em paz.
Ambas as histórias não tratam de redenção; eu não acredito que há redenção para todas as pessoas, por mais que alguns tentem me dizer que sim. Você fez atos ruins, você matou pessoas. Não importa se foi para um “bem maior” ou não. Você não é perfeito, você usou dos mesmos instrumentos para causar dor àqueles que causaram dor em você.
Mas antes de cogitar essas situações, eu joguei Katana Zero como ele foi “proposto” – a jogabilidade, o ritmo frenético, ignorando todos os diálogos como se nada me importasse. Eles eram os vilões, não mereciam nenhuma compaixão. Um deles até tentou me alertar sobre algo. Ignorei; ele era o alvo, e o alvo significa a morte.

Esse tipo de condicionamento tipicamente vem aliado a algum motivo, mesmo os mais banais (Doom, por exemplo, te fala para matar os demônios pois invadiram a Terra e você é a única defesa contra eles). Mas ainda há um vasto oceano a ser explorado quando se trata de moralidade e ética em relação a assassinatos em jogos. Spec Ops: The Line levanta questões superficiais sobre o tema. Outros cultuam a noção de que não matar ninguém é uma questão de “bem ou mal”. Vide Dishonored e como ele te “presenteia” com finais bons por ter sido um “bom mocinho ou mocinha” e não ter eliminado ninguém. Como se essa binaridade fosse suficiente para definir a complexidade de emoções humanas.
Eu decidi não ignorar nenhum dos diálogos na minha segunda partida de Katana Zero; ditei a mim mesmo que eu precisava ouvir o que os outros tinham a falar – sobre mim, sobre elas, e se eu estava do lado “certo ou errado” da história. Descobri então que não há lado certo ou errado da história de Katana Zero.
A Askiisoft se debruça sobre uma profunda reflexão sobre causa e consequência de stress pós-traumático, sobre como eventos cruciais podem moldar uma pessoa. O dragão, ao suprimir algumas de suas memórias, se tornou um robô, uma máquina de matar – pois, para ele, essa era a única realidade que existia. (Vale aqui reforçar que em nenhum ponto do jogo a desenvolvedora reduziu stress pós-traumático a um processo motivador para a violência, escolhendo desenvolver mais o fato de que a supressão de memórias pode fazer você esquecer dos atos que já cometeu no passado e ter dificuldade de aprender com eles). Eu era tão culpado quanto os alvos que matava com as minhas espadas.
Foi difícil de engolir, de saber que algumas mortes eram necessárias pois eles eram “vilões”. Mas se eu era tanto vilão quanto eles, qual era a diferença? O que me dava o direito de definir quem morria ou quem vivia? Por que eu atuava como juiz, júri e executor? Meu personagem era falho, eu sou falho. Ambos tomamos decisões que julgamos corretas, e que agora pagamos nosso preço. Tudo nessa vida tem um preço.

Seria o preço do “Dragão” a injeção que o seu “terapeuta” dá – que permite que você desacelere o tempo – ou seria a injeção mais uma das suas formas de penitência? Seria a manipulação do tempo uma metáfora sobre a maneira como manipular lembranças e experiẽncias do passado pode alterar quem somos hoje ou no futuro? Difícil atingir uma conclusão com a (proposital) falta de informação que Katana Zero te dá.
Cheguei mais uma vez no “chefão final” – se é que posso chamar uma lista de alvos de “chefões”. O matei como se não fosse nada. Da perspectiva de jogabilidade eu já tinha decorado a sua combinação de ataques, a experiência de tê-lo derrotado previamente. Mas agora, mesmo com as informações que eu tinha, não sabia o que seria de mim, ou o que seria do futuro com ele morto. Um futuro melhor? Redenção? Paz? Não se sabe.
“Você gosta de machucar outras pessoas?”, diz um dos protagonistas de Hotline Miami em certo ponto do jogo. Ainda reflito ocasionalmente sobre essa mensagem. Hotline Miami, como Katana Zero, se apoia no estilo exagerado e na precisão do combate para incluir um forte subtexto em relação a violência. Nem o “dragão”, nem o homem sem nome de Hotline Miami, nem o Agente 47 são dignos de empatia – mesmo quando essa empatia é gerada pelas mecânicas dos jogos descritos ao “recompensar o jogador” pelos seus feitos violentos.
Por isso que coloco Katana Zero no mesmo patamar desses outros jogos. Ele é dependente da violência tanto quanto a sua violência é necessária para demonstrar um contexto, fazer o jogador refletir sobre a necessidade desses atos. É muito fácil olhar para o jogo e dizer que é só a mais pura violência, que é para ser divertido. E até quando diversão vai ser equivalente a assassinar todos que ver pela frente sem nenhuma repercussão, sem pensar sobre o que isso pode causar a curto ou longo prazo? Até onde vale sujar a espada, o seu nome, o seu futuro, para alguém que você não conhece? Até onde iremos olhar para esses personagens e não enxergarmos a profunda imperfeição neles?
A conclusão sobre Katana Zero
Katana Zero é sobre a mais pura ação e violência gratuita, mas também é sobre a manipulação, o medo, e como suprimir memórias pode te levar para um caminho sem volta. E de que a violência, por mais glamurosa que seja nos jogos, quando descontextualizada, é vazia. Seja por um assassino de aluguel, um homem que se chama de “Dragão” ou protagonistas sem nomes. O vilão nem sempre é o “vilão”, e não dá para você se ver eternamente como o “bonzinho” da história.

(Por Lucas Moura, editor do HU3BR)
—
Leia mais textos como este sobre games, fora do mainstream e dos holofotes, no HU3BR.