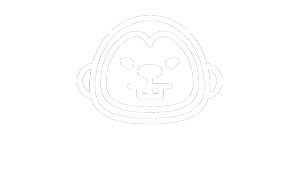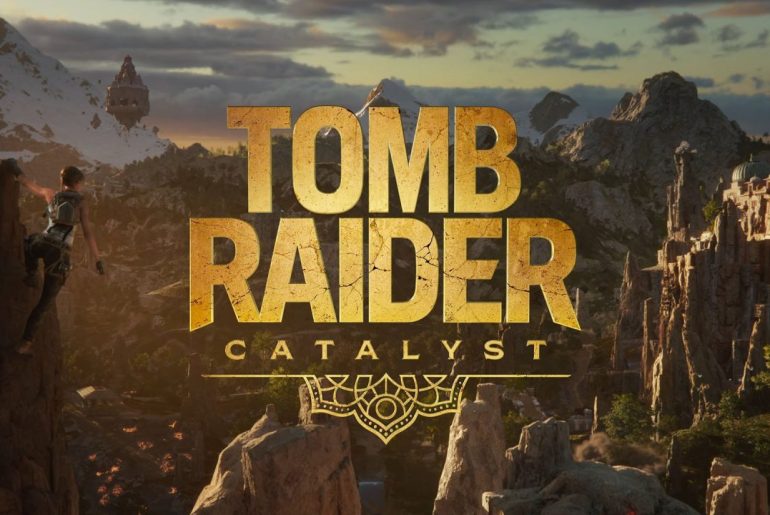Por Lucas Moura, do HU3BR.
Quatro homens sentam em um bar. É mais uma noite típica para eles: esposas, relacionamentos, possíveis casamentos. É o Stray Sheep Bar, o destino principal de Vincent e seus amigos. Um lugar para botar para fora as desavenças da vida, o que os chateia, os medos. Ou ao menos deveria ser, pois todos os personagens, com a exceção de Vincent, seguem estereótipos de masculinidade facilmente identificáveis. O brincalhão, o que não se abre muito, o mulherengo.
Apesar das cores rosas e marcantes tanto da capa original quanto das
cenas e ambientação, Catherine é um jogo extremamente masculinizado,
construído dentro de uma indústria cuja temática ainda era (e de certa
forma ainda é, apesar de grandes avanços nos últimos anos) de que o
público masculino é o que mais vai atrair as vendas.
Quando eu descobri Catherine em 2011, eu o ignorei por meses devido
às cores rosas, à estética “anime demais” para o meu gosto. Eu, na
época, estava moldado em certos padrões que faziam com que ele não se
encaixasse dentro da minha vida.
Eu estava no começo dos meus 20.

Quando sentei para revisita-lo, agora perto dos meus 30, vi que
também tinha a mesma roda de amigos. O brincalhão, o mulherengo, o
sério, o comprometido. Nós tivemos o nosso Stray Sheep Bar, nos
encontramos ocasionalmente para rirmos, falarmos das nossas desventuras
em relacionamento. Tudo tinha um ar meio leve, como se aquilo fosse o
tradicional — o certo. Para mim era; para mim era o que devíamos fazer
na época, e mais nada. O que houve com eles, eu não sei. Eu perdi o
contato com eles anos atrás. Seguimos caminhos diferentes , a vida
aconteceu, sei lá, você sabe como é
“Então, você vai se casar com Katherine? Ter filhos?”, perguntou um
dos amigos de Vincent no começo da história. Vieram as memórias de ter
recebido a mesmas questões e análises sobre o meu futuro. Devo ter feito
a mesma cara de Vincent — pavor, medo futuro, incerteza, de estar ou
não fazendo a coisa certa — que a cutscene me mostrava.
Paralelamente a minha jogatina de Catherine, conversava com uma amiga
que agora está na Austrália, cursou biomedicina, nunca seguiu a
profissão, e agora tem uma empresa. Rimos, pois o mesmo aconteceu
comigo. Era para eu estar sendo algum analista de marketing em alguma
empresa, mas estou aqui escrevendo sobre um jogo de 2011 que só deu as
caras no PC em 2019.
Oito anos. Oito malditos anos em que a minha vida foi de um aspirante
a analista, para um aspirante a geopolítica, para assentar na escrita e
dissecação de jogos. Oito anos desde que eu olhei para uma capa rosa
onde uma mulher de olhos azuis e cabelos semi-cacheados levantava as
alças de seu corset enquanto um homem com chifres de bode, e outras
ovelhas / bodes se despencavam diante de sua beleza — ou o desespero do
que a vida deles haviam se tornado — e pensou “Mas que cacete é isso?
Por que me recomendaram isso? Eu não vou jogar isso, é ridículo”. Rio
ainda mais quando noto o boneco da Hello Kitty que ganhei de um ovo de
páscoa em 2014. “Eu sei que você gosta de Hello Kitty, então eu vi que
esse vinha com brinde”. Ainda bem que mudamos.

Essas viagens no tempo, apesar de divertidas e gostosas de se
relembrar, também são pavorosas. Quanto mais a história de Vincent,
Katherine e Catherine avançava, mais eu me sentia incomodado. Reparei o
quão rápido esses últimos anos passaram, como as atitudes dos amigos de
Vincent me incomodavam hoje em dia. Ainda é o jeito deles, como era dos
meus amigos. Um jeito com o qual eu não concordo e não consigo conviver
direito. Um que eu agradeço ter deixado no passado.
Mas também foi a hora em que eu me dei conta de que, por mais que
negasse, eu estava ali — presente no meu próprio Stray Sheep – e
compartilhava, era conivente com aquelas atitudes. Em algum ponto eu
mudei, seja por trauma, amadurecimento, ou coragem – não sei dizer
exatamente como, e essa é um pergunta que, apesar de ainda pairar na
minha mente, certamente não será respondida nesse texto.
Os estágios, que antes tratava como uma atração principal e o maior
motivo de eu ter me apaixonado por Catherine (o jogo, não a personagem),
ganharam um atributo de coadjuvante. Foi só agora que eu entendi os
pesadelos de Vincent: o futuro, o casamento, o filho, os prazeres
carnais e as tentativas de se esquivar deles. Mova blocos, remova
armadilhas, desafie-se a subir mais um andar. E depois outro andar. E
depois outro andar. Até a sua “liberdade”.
Para evitar spoilers, eu não vou entrar nos absurdos que são os
conceitos de liberdade, escolha e “ordem” estabelecidos pela Atlus em
Catherine. Sei que eles foram produzidos em 2011, e acho até que meu
“eu” da época poderia ter concordado, mas o meu “eu” de hoje discorda.

Afinal, ordem, liberdade e escolha são atributos cuja definição pode
variar bastante ao longo da nossa vida. Aprendemos uma coisa um dia,
desaprendemos em outro. Subimos uma escada, movemos um bloco,
escorregamos e caímos cinco andares, para no dia seguinte começar tudo
de novo.
Entre essas movimentações de blocos todas, Vincent conversa com
outras ovelhas — aqueles que seguem a então imposta “ordem”, aqueles que
buscam a resposta para os seus medos, que encontram maneiras de subirem
a temida “Torre” que é o componente de quebra-cabeça do jogo. Alguns
querem desistir, outros querem seguir em frente, outros só querem ficar
ali, pois se consideram pertencentes àquele “mundo”. Teria eu me tornado
uma dessas ovelhas, empacado em um mundo que aceitei ser aquele ao qual
pertenço, e padecerei aqui?
Enquanto estou neste momento de reflexão, aproveito para reafirmar que Catherine ainda é um jogo “bobo”; é exagerado em seus temas, masculinizado, potencialmente problemático em muitos aspectos, sobre os quais não vou discorrer já que não me sinto capaz e há quem possa falar disso melhor do que eu. Para isso, aponto você para a excepcional análise de estereótipos de gêneros produzida em 2011 por Emily Short ao Gamasutra, ou para a curta e interessante crítica do jogo feita por Astrid Johnson do Rock Paper Shotgun sobre os elementos transfóbicos presentes.
Ainda ciente desses temas, dos problemas, digo para você: jogue
Catherine, seja essa a sua primeira ou milésima vez, mas não jogue só
por jogar. Não ria dos personagens ou os julge de cara. Lembre-se de
quem você era em 2011, coloque-se mais no lugar dos personagens,
injete-se mais na história. Afinal, o que é compreender a dor, o medo do
outro, se não doar uma parte de si para que as angústias, que não lhe
pertencem, se tornem mais claras?

E quando você se sentir que se tornou uma das ovelhas, que não
consegue subir mais um bloco, que não é capaz de se mover o mais rápido
que pode, como se a vida fosse uma eterna corrida para quem está no topo
e toca o sino para a “liberdade”, compartilho uma passagem
da adaptação cinematográfica “O Escafandro e a Borboleta”, a
autobiografia de Jean-Dominique Bauby, que sofreu um derrame em 1995 e o
deixou quase totalmente paralisado.
Em dado momento da história, o jornalista Pierre Roussin visita
Bauby. Roussin havia passado quatro anos em cativeiro no Líbano. Roussin
olha para o então paralisado Bauby e diz: “Agarre-se o mais rápido possível ao humano dentro de você… e sobreviverá.”
Agarre-se, no que puder. Lembre-se do humano que você é, que você não
é essa caixa. Que você mudou com os anos. Respeite isso, mova esses
blocos com gosto; com a experiência que conquistou, com a coragem que
você que sequer sabia que tinha.
Catherine é um jogo bobo, sempre vai ser. Talvez eu esteja dando
crédito demais para a Atlus pelo o universo que construíram. Mas ele me
ajudou a ver que minha Stray Sheep foi embora, que eu mudei. Que eu me
transformei. Que eu empurro blocos com mais facilidade do que antes.
E que certas dores, por mais intensas que aparentem ser, são sempre passageiras.
—