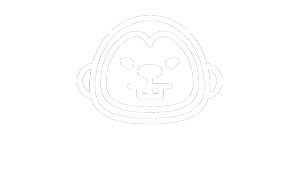Wolfenstein: Youngblood (Steam / PlayStation 4 / Xbox One / Nintendo Switch) surgiu da cooperação entre duas empresas que não poderiam ser mais distintas: Arkane Studios e a MachineGames.
Eu gosto quando uma desenvolvedora faz uma boa mistureba. Às vezes essa receita cria alguns jogos muito peculiares, como é o caso do russo Precursors — que tentava unir combate espacial, RPG, mundo aberto, ação em primeira e terceira pessoa.
Também gosto de ambição; é bom ver um jogo se arriscar, ir além da zona de conforto, mesmo que o resultado final não seja tão bom assim.
Quando essas combinações acontecem, eu diria que é muito fruto de uma cooperação ou uma ambição muito grande de um grupo de desenvolvedores com um objetivo comum.
Wolfenstein: Youngblood, no entanto, não se encaixa em nenhum desses padrões.
Não quero insinuar aqui que tenho algum conhecimento sobre o desenvolvimento interno para dizer com precisão onde termina o trabalho de uma empresa e começa o da outra. Porém, há detalhes no jogo nos quais pode-se notar claramente a influência de uma ou outra desenvolvedora. Por isso, prefiro separá-lo em Youngblood da Arkane e Youngblood da MachineGames.
O Youngblood da Arkane Studios se escora nos pilares que tornaram a empresa famosa: os seus immersive sims. Paris é uma cidade onde a desenvolvedora mais uma vez abusa da verticalidade e dos planos que fazem o jogador perceber que ele pode alcançar, que ele pode explorar, que há algo a ser descoberto em cada esquina ou bueiro.
Não chega a ser impressionante como Karnaka ou Dunwall de Dishonored, mas o conceito em si — a aura — está lá. Uma aura que, como eu imaginava, entraria em conflito com a temática que a MachineGames tende a usar para Wolfenstein: a linearidade e a ação frenética, aqui amplificadas por se tratar de ser um jogo “cooperativo” com um minimapa.
Aproveito aqui para mencionar o texto de Daniel Sims publicado em seu blog oficial em 2017 sobre a morte dos minimapas e o uso dos waypoints nos jogos recentes. Jogos que ainda demandam o minimapa tendem a “forçar” o jogador a olhar para ele em vez de se guiar pelo cenário — mesmo que o cenário dê ótimos indícios de onde e como avançar, o que a Arkane faz e muito bem mais uma vez.
Quando a MachineGames opta pelo uso de um minimapa ela está me dizendo “aqui é o caminho e ponto, todo o resto é secundário”. Isso potenciamente afunila a visão do jogador, como uma viseira de um cavalo.
Reforço, assim como Daniel faz em seu texto, que o uso de waypoints também não é a “melhor” solução, mas esse tema está além do escopo deste artigo. Levanto-o, pois, é também outro indicador que a ideologia das duas empresas diverge mais e mais.

Para a Arkane, o jogador está tanto em vantagem como em desvantagem frente aos seus oponentes.
Pegue Dishonored ou Prey, por exemplo; ambos oferecem armas ou habilidades que são mundanas caso não sejam combinadas com o cenário ou táticas específicas. Assim que o cenário (ainda mais Prey) entra na equação, elas podem mudar a forma como o jogador enfrenta um inimigo.
Youngblood não consegue seguir esse princípio pois o grosso dele ainda é um shooter; pior, um shooter com uma metaprogressão e leve elementos de RPG.
Ainda tenho as minhas dúvidas se já existiram ou existem empresas capazes de introduzir tais mecânicas sem destoar ou alienar o jogador.
Um bom exemplo para muitos é o da Bungie com Destiny 2, mas minha preferência fica pela progressão das fases de Hitman — que te força a usar metodologias diferentes e eliminar alvos de maneiras inesperadas, um DNA que a IO interactive e Arkane dividem.
Em Youngblood, o sistema serve primordialmente para aumentar o tempo de jogo e dar uma sensação passageira de satisfação, uma injeção de adrenalina para você não dormir enquanto navega do ponto A ao ponto B matando os mesmos soldados nas mesmas posições.
E, vai por mim, isso acontece mais do que deveria.
Chegou a um ponto que eu tinha uma noção tão boa do posicionamento dos inimigos — e olha que não falo isso só para me gabar — que eu era capaz de eliminar os principais alvos perigosos de uma área sem grandes problemas.
Mapa A? Eu sei que há um comandante em determinado ponto do mapa, então basta correr em meio a um tiroteio e eliminá-lo para que ele não envie reforços.
Com o resto eu lido depois. Devia ser a décima ou a décima quinta vez que eu fazia o mesmo mapa, nas mesmas condições, a maior variação sendo o nível dos inimigos. Afinal, nenhum sistema de RPG-lite deve fazer o jogador se sentir “poderoso” (um conceito que vai, mais uma vez, contra o que era prezado pela MachineGames no passado), mas sim em um constante desafio consigo mesmo. Números artificiais, dificuldades artificiais, diversão artificial.

Nem mesmo o sistema RPG-lite é capaz de se situar em meio a tanta mistura de elementos e ideologias de design diferentes. A maioria do tempo em que joguei Youngblood, a minha ferramenta mais mortal era…. uma faca.
A razão para isso é o sistema de “domínio”, determinado pela quantidade de mortes que você causou com uma determinada arma. Como eu cogitei jogá-lo como um jogo furtivo, acabei acumulando +44% de dano nela.
Esse valor é colocado sobre o 1/2% de dano permanente que você recebe ao subir de nível. Resultado: No nível 20 uma machadada minha à distância equivalia a um aumento de dano de incríveis 84%. Nem mesmo os soldados mais poderosos da Alemanha Nazista eram páreo para as minhas faquinhas. Em contrapartida, eu teria de refazer o mesmo processo — e em um número muito maior (140 eliminações) para aumentar o boost em 8% do meu rifle.
Quanto mais tempo eu passava entre as (pouquíssimas) missões primárias e as dezenas de missões secundárias, mais o cenário ao meu entorno se tornava um borrão. O que, aliás, me recordou de uma conversa que tive recentemente.
Estava em um carro e apontei que uma loja de fast food havia aberto em uma rua. A pessoa me respondeu “ela está ali faz um ano”. Eu não havia notado, não era o meu objetivo — eu seguia um caminho, o caminho de sempre, a rotina de sempre, as ações eram automáticas.
Todo o trabalho da Arkane desenvolvendo uma área que pudesse parecer tangível, foi por água abaixo; tudo era um borrão. Objetivo atrás de objetivo enquanto eu anotava no meu fiel caderno que sempre mantenho ao meu lado a maneira mais prática de subir de nível.
As ruas de Paris pareciam as mesmas, apenas caminhos para um fim. Um fim que não tinha um resultado glamuroso ou ao menos aceitável.
O que é uma outra implicância minha com sistemas de RPG em shooters, ainda mais em Youngblood — rígido ao extremo. Em jogos como Diablo você tem a motivação de ao menos ter a oportunidade de pegar um item único, melhorar a sua build, destruir aquele chefão que te atazanava há horas na dificuldade mais alta.
Ainda é, em partes, um processo “vicioso”, mas um que te recompensa. Youngblood me permite apenas “melhorar” as armas com moedas de prata para eu fingir que estou mais “forte”.Números artificiais, dificuldades artificiais, diversão artificial.

Em um universo paralelo — de preferência um melhor do que o que atual — Youngblood teria sido um jogo diferente e não dois jogos combinados em um.
A rasa história, que mal merece ser mencionada aqui de tão patética que é, merecia ter sido melhor desenvolvida. Jess and Soph, capaz de algumas das personagens mais carismáticas desde o reboot, mereciam mais tempo para desenvolverem suas personalidades. Os vilões, que só faltam vestir uma roupa de palhaço de tão cômicas que são as suas ambições, deveriam ser mais bem trabalhados.
Wolfenstein: Youngblood parece querer o que todas as editoras almejam hoje em dia: retenção de usuário a todo custo. Missões diárias, semanais, a chance de mostrar uma skin legal para um amigo, a metaprogressão que não ajuda em nada e só estende um jogo que já é por si só longo demais sem uma explicação clara.
Dá um belo de um quadro no fim do relatório fiscal trimestral da empresa, mas e os jogadores? Que investem — ou investiram — horas para alcançar essas tais falsas conquistas? Quem dera isso fosse um assunto novo, já estamos discutindo isso desde o fatídico caso de criarem “guias” para que as pessoas saiam da área inicial de Dragon Age: Inquisition dada a quantidade de quests “inúteis” presentes.
“Mate nazistas, lute contra o nazismo, faça a diferença, mostre que você é contra este regime!”, grita o jogo, grita o marketing, grita a Bethesda. Esse seria o ponto-chave de Youngblood, mas você pode colocar qualquer coisa, sapos gigantes, serpentes, alienígenas, que o resultado seria um mesmo: a mensagem se perde em meio a um jogo sem alma, cujo tecido é desconectado e o único propósito é reter o usuário o mais tempo possível com dificuldades arbitrárias e momentos de “adrenalina”.
A promessa do “infinito”, a promessa de que o jogo não acaba, de que sempre terá algo mais a ser feito. Chega disso, tudo precisa — tem de ter — um fim. Mas, para a liderança de muitas empresas, não é assim que a banda toca. E nós, forçadamente, tentamos dançar de acordo com a música. Está mais do que na hora de parar.
A conclusão de Wolfenstein: Youngblood
Tecidos desconexos e mecânicas que se desencontram junto com empresas cujos focos não poderiam ser mais distintos transformam Wolfenstein: Youngblood não em um shooter, mas em uma máquina de reter usuário — o status quo desejado da tão chamada indústria “AAA” — em troca de baixos momentos de adrenalina e a promessa de que alguma hora vai melhorar.
##
(Por Lucas Moura, editor do HU3BR)
—
Leia mais textos como este sobre games, fora do mainstream e dos holofotes, no HU3BR.
Veja mais sobre games!