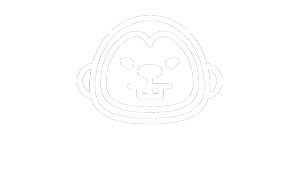Filmes de terror mexem com nossos medos primários, mas oferecem muito mais do que apenas sustos e aversões. O terror como narrativa social desde sempre acompanhou os medos e ansiedades da sociedade em determinado momento da história.
Os filmes mudos sombrios da década de 1920 representavam os temores de um mundo traumatizado pela Primeira Guerra Mundial. A maneira de narrar visualmente os danos psicológicos que um dos mais sangrentos eventos da história causou em soldados e na Europa como um todo.
Na década de 1950, o mundo que se recuperava dos traumas da Segunda Guerra Mundial, a iminência de uma guerra nuclear com a Guerra Fria e os adventos tecnológicos fazendo parte da vida das pessoas, deram origem aos horrores sci-fi americanos.
Criaturas alienígenas hostis que destruíam cidades inteiras com armas químicas e possuíam as mentes e corpos das pessoas, representavam o temor americano dos armamentos russos e o terror político da época.

O clássico O Bebê de Rosemary, de 1968, por exemplo, comunica o medo que as mulheres tinham na época de que o governo pudesse assumir o controle de seus corpos. Trocando políticos conservadores pelo culto satanista, o terror estava pronto.
As histórias de terror contadas pelo cinema ao longo das décadas colocaram espelhos à frente da sociedade. Ou como melhor pontua Karina Wilson do Horror Film History:
“Os filmes de terror são a versão atual dos poemas e baladas épicas contadas em volta do fogo de nossos ancestrais”.
No contexto atual, a situação geopolítica global, novas tecnologias que transformam as relações humanas e os movimentos organizados pelas minorias deram origem a filmes que especulam tecidos sociais modernos, representando cenários de puro mal-estar contemporâneo.
O terror psicológico nos filmes recentes se propõe a quebrar o tabu para tratar do luto, da sanidade e das marcas dos abusos, como em “Hereditário” e “O Babadook”, ou paranoias sobre gênero e sexualidade como “It Follows” e “A Bruxa”.
A representatividade negra e o terror
Nos filmes de terror, os negros sempre tiveram papéis específicos: de cafetões a prostitutas, criaturas perigosas dignas de paúra e, principalmente, como o único negro de um grupo de amigos, que é o primeiro a morrer.
O terror e o cinema como um todo ainda possui uma grande dívida quando se trata se representatividade negra, embora, assim como as mulheres, alguns filmes tenham se empenhado em preencher essa lacuna histórica.
Essa disparidade racial é bem discutida por atores e diretores afro-americanos no documentário Horror Noire, uma extensão do livro de mesmo nome, onde eles analisam como os afro-americanos começaram a deixar os papéis secundários para assumirem os heróis e os mocinhos da história.
A realidade digna de terror
É nessa nova onda que surge o necessário terror social de Jordan Peele. Após atuar como comediante por mais de 10 anos, Peele, que sempre desejou ser diretor de cinema, consagrou o gênero com histórias escritas e dirigidas por um negro, sob a legítima perspectiva negra sobre o racismo e dando espaço a um elenco negro de destaque.
O diretor eleva a um nível angustiante aspectos, regras e estruturas sociais para transformar o cenário em um verdadeiro pesadelo. A atmosfera de terror psicológico paira sobre situações mundanas.
Às vezes, a pior sensação de medo de uma cena é simplesmente como os personagens envolvidos olham para o protagonista, como em Get Out. Mas ele também usa o humor ácido de maneira estratégica para quebrar um pouco a tensão do peso que o tema traz.

Em “Get Out”, seu filme de estreia, o diretor usa o conceito sinistro de ricos brancos neoliberais que transplantam seus cérebros em corpos negros. Uma senhora com seu parceiro, sugere que eles também servem como brinquedos sexuais.
O protagonista é analisado como uma verdadeira mercadoria a ser adquirida pelos convidados da festa.
Isso tem muito a dizer sobre a herança enraizada daquele capítulo traumático da história, onde os africanos contrabandeados eram vendidos como propriedades, e não seres humanos.
O terror paira sobre essa vulnerabilidade de uma pessoa que faz parte de uma minoria, quando se encontra com o olhar sentenciador de quem não consegue vê-la como um ser humano comum.
“Get Out” é sobre o racismo americano, mas o diretor adianta que não é tão simples categorizá-lo.
“Meus filmes lidam com o monstro humano, este monstro social. E o vilão que vive dentro de nós”, ele explicou no podcast Still Processing, do New York Times.
O filme foi nomeado em quatro categorias do Oscar, e levou a estatueta de melhor roteiro original, tornando Peele o primeiro diretor afro-americano a receber o prêmio da categoria.

Em “Us”, o diretor apresenta uma comunidade subterrânea de “cópias” de pessoas que vivem na superfície. Desprovidas de fala, escrita ou pensamento, elas vivem esquecidas e alienadas.
Colocando uma família negra em destaque e uma de brancos como personagens secundários, Peele inverte o molde preestabelecido nas narrativas hollywoodianas.
“Us” é repleto de dualidade, não apenas em sua narrativa em si, mas ao representar a sociedade americana e os fundamentos de sua identidade.
“Nós somos nossos piores inimigos. Não apenas como indivíduos, mas o mais importante, como um grupo, como uma família, como uma sociedade, como um país, como um mundo. Nós temos medo do sombrio e misterioso “outro” que vai nos matar e roubar nossos empregos…”, disse o diretor sobre Us.
Além de anfitrião da série, Jordan Peele foi um dos produtores executivos do novo Twilight Zone (Além da Imaginação), em 2019. A série original foi criada em 1959 por Rod Serling, que explorava conceitos de ficção científica e terror para enviar mensagens sociais.
A série, cujo cada capítulo abordava uma história, trouxe uma das experiências mais marcantes do horror social, que fazia alegoria à sociedade americana do pós-guerra.
“Um marciano pode dizer coisas que um republicano ou democrata não pode”, dizia Serling.
Peele manteve o sci-fi como alegoria a situações sociais contemporâneas. No episódio “Not All Men“, por exemplo, a diretora Christina Choe conduz uma sátira onde uma infecção alienígena se espalha pelos EUA, que atinge misteriosamente apenas homens e os torna criaturas agressivas e misóginas.
Mas é o episódio “Replay“, dirigido por Gerard McMurray, que se alinha à habilidade de Peele em representar o terror de eventos cotidianos sob a perspectiva negra.

Ambientado em um restaurante de beira de estrada, uma mulher e seu filho compartilham uma refeição descontraída. O clima de harmonia rapidamente é interrompido quando um policial entra no local.
Quando a mulher se dirige até o balcão, o policial inicia uma conversa. A sensação angustiante aumenta progressivamente durante a sequência de diálogos, que culminam em um evento catastrófico.
O evento muito possível a até real demais para ser catalogado como ficção apenas ganha o toque de fantasia quando uma força inexplicável faz com que a mulher esteja condenada a reviver aquele evento incontáveis vezes. Embora ela tente tomar uma postura diferente a cada nova tentativa, é como se ela não tivesse a mínima chance de escapar do destino que lhe foi pré-definido.

Poucos diretores tiveram a chance de contar histórias de terror como Rod Serling, John Carpenter, Dario Argento, David Chronenberg, Wes Craven, Sam Raimi ou George A. Romero, para citar alguns dos cineastas que marcaram o gênero no cinema.
Jordan Peele é, antes de tudo, um estudioso do terror. Encontrou sua fórmula original para conquistar um espaço nessa história, que sabe manter o público tenso enquanto desafia suas noções preconcebidas do mundo.
Nos colocando em contato com as narrativas de horror mais honestas que já vimos, o diretor lembra e honra o potencial do terror como narrativa social, mais uma vez.
Leia também: Porque somos fascinados por filmes de terror